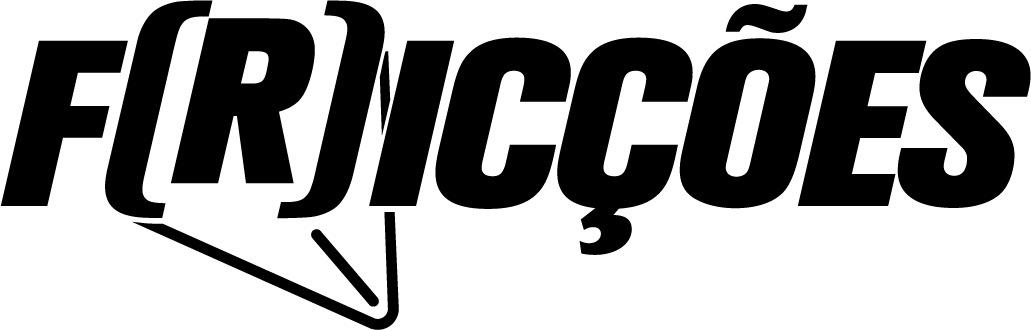Por Yuri Garcia
Professor e Pesquisador (Estácio | RJ) e Doutor em Comunicação (UERJ)
Quando comecei a ver Joker, algo já me dizia que se tratava de uma ida ao cinema diferente: a impressionante atuação de Joaquin Phoenix não era algo que começava tímida e alcançava uma crescente. Não, o ator já demonstrava desde o início seu domínio sobre o conceito que seu personagem propunha, sem abandonar uma complexidade que lhe era intrínseca já nos primeiros dez minutos.
Não podemos deixar de mencionar a influência que o romance O Homem que Ri de Victor Hugo e a atuação de Conrad Veidt na versão fílmica de Paul Leni em 1928 tem na construção do vilão das HQs. Em termos narrativos, O Homem que Ri e o Coringa das histórias em quadrinhos não possuíam qualquer relação. Apenas no aspecto estético da apresentação de Gwynplaine e o Coringa que essa relação se torna visível. A obra literária e o filme de Leni traziam humanização e sofrimento como cargas essenciais do personagem Gwynplaine, enquanto o Coringa das HQs personificava a loucura e a vilania antagônica ao heroico Batman.
Por outro lado, o Joker parece ir de encontro mais direto o livro de Victor Hugo e o filme de Paul Leni. Todd Philips propõe um retorno à investigação das questões sociais, da miséria humana dos menos afortunadas e da vida artística que a obra de Hugo e sua versão fílmica possuíam. Além disso, podemos perceber que a atuação de Phoenix possui uma relação direta com a grande atuação de Veidt. O personagem principal não se mostra apenas como mais uma reconfiguração de um clássico vilão. Na verdade, estamos diante de um cuidadoso estudo que referencia a fonte de inspiração do personagem das histórias em quadrinhos, propondo ir mais a fundo em suas questões psicológicas e críticas sociais.
A desconstrução em Joker não é apenas uma desconstrução de um personagem, mas também um questionamento das hierarquias sociais e das narrativas históricas. A primeira cena do filme já revela algumas de suas pautas centrais: diante de um espelho, se maquiando de palhaço para trabalhar, Todd Philips conseguiu apresentar uma cena que isola Arthur Fleck naquele momento específico, mesmo estando em um vestiário com outras pessoas. Ali temos a apresentação do seu personagem principal, a imersão no processo artístico do ator/palhaço, a dedicação laboral da classe mais baixa e a preparação para um espetáculo. Depois, temos as inúmeras metáforas que o andamento da cena nos permite. Como algumas mais evidentes, temos o espelho e a questão identitária e a necessidade de olhar para si, assim como as ideias de duplas ou múltiplas personalidades e a (ir)realidade que as imagens nos passam. Enquanto isso, a maquiagem pode representar a máscara que usamos para o trabalho ou até para a vida, assim como desvelar a noção de maquiar algo – em seu sentido maquiavélico, ludibriador ou performático.
Mas tudo isso perpassa uma interpretação possível e, quem sabe, necessária para o completo aproveitamento de tudo que essa obra tem para oferecer. Fiquei imerso, algo naquele filme me fazia levitar e me convidava a adentrar todas as dores e dificuldades que a narrativa trazia. Arthur Fleck pode ser um personagem bem específico, com suas questões bem exclusivas, mas trazia sensações de identificação e de proximidade. Talvez seu lado oprimido se rebelando contra seu opressor trouxesse à tona a noção de cidadão comum que sofre as mazelas dos mais poderosos. Talvez sua proximidade com algum conhecido que passou por dificuldades similares (nem que apenas levemente similares) e está localizado no nosso inconsciente aguardando o estímulo certo para ressurgir. Talvez a dramaticidade do filme apresente uma pessoa que trabalha, assiste televisão, possui sonhos, se apaixona, se frustra e sofre ao longo de uma repetição de um cotidiano comum a todos. Ou talvez, a ampliação do debate sobre empatia e seus desdobramentos sociopolíticos possam estar mais latentes em nossa sociedade e nos atentando mais para observarmos o próximo enquanto um humano com dificuldades.
Joker me tocou do início ao fim. É inevitável lembramos que se trata do clássico vilão de Batman que vimos tão imortalizado através de Jack Nicholson em 1989 e Heath Ledger em 2008. Joaquin Phoenix, por sua vez, nos permite uma identificação e uma empatia com uma das mais perversas personas da cultura popular. Através da reinvenção e/ou desconstrução dessa figura, entramos em um dos maiores méritos do roteiro e direção de Phillips: colocar em xeque a própria narrativa oficial das HQs.
Essa estrutura permite uma clara abordagem polissêmica à interpretação do filme. Assisti ao filme com minha companheira e dois amigos. Ao final, a única mulher do grupo compreendia que a mãe do protagonista havia sido uma vítima em todas as instâncias do poderoso Thomas Wayne. Com seu poder político e financeiro, o sujeito havia conseguido oficializar uma narrativa que o eximia de qualquer culpa, apontando a mulher como louca e institucionalizando-a com seu dinheiro e influência. No entanto, os homens compreendiam que se tratava realmente de delírios de uma mente ensandecida, fruto de uma educação de uma mulher com claros problemas psicológicos e delírios sobre um amor proibido. Eu, por outro lado, não adotava qualquer uma das duas leituras como certas. Apenas achava incrível essa possibilidade de múltiplas interpretações e procurava perceber a possibilidade de inúmeras outras.
Se pensarmos que, apesar de seu protagonista central ser Arthur, o filme se trata de uma exploração das possibilidades de releituras do universo de Batman, percebemos que a sombra do Homem-Morcego continua pairando sobre a narrativa. Seja através da rápida aparição do personagem ainda criança, ou através da estrutura que Phillips cria para nos levar a perceber o crescente descontentamento dos menos favorecidos, vemos no final, uma Gotham tomada por uma revolta do povo, onde a anarquia reina e abre espaço para a inserção de uma figura restauradora da ordem. Assim, fica o questionamento sobre as próprias ações do homem morcego não como heroicas, mas como parte de um processo de extermínio – ou porque não, genocídio – dos menos afortunados que já era percebido no inegável elitismo e aversão ao povo que seu pai demonstrava. Na conversa pós-filme do grupo, todos compreenderam que as outras leituras faziam total sentido e mudavam de opinião ou percebiam que a dúvida era, talvez, o verdadeiro sentido.
Nesse momento, o filme atrela essa magnífica possibilidade interpretativa com sua forte crítica social, pois o silenciamento da verdade é frequentemente substituído por uma narrativa hegemônica ao longo da história de nossa sociedade. Batman seria, na verdade, uma persona elitista e reacionária fruto de uma necessidade de vingança dos ricos? Um xerife que procura manter a ordem pela truculência, se utilizando de seu enorme poder financeiro para se fantasiar (em todos os sentidos possíveis) de herói? Essas releituras se tornam possíveis, pois Phillips indica um importante fato: a história é escrita pelos vencedores e pelos dominantes. Mas isso não significa que tenha sido da forma como ocorreu.
A ideia de perspectivismo fica mais presente, pois assim podemos compreender que há sempre uma perspectiva específica por trás de cada narrativa. Nesse sentido, o filme apela para a noção de perspectivismo de forma mais analítica do que as atuais baboseiras reacionárias tentam fazer. Pois, as narrativas que silenciam outras são sempre hegemônicas. Não temos, como alguns tendem a acreditar, uma história que celebre os oprimidos que, na verdade, se trata de um apagamento da verdadeira história sofrida das classes mais poderosas, como algumas das leituras negacionistas sobre os horrores da Ditadura Militar Brasileira procuram apontar. As classes hegemônicas costumam ser as donas das narrativas, e quando não são, isso não se configura como um apagamento de sua versão. Se trata do aparecimento de um ou mais relatos dos abusos que infligiram sobre os demais. Uma lição que seria importante na nossa atual sociedade e para o atual governo. Mas isso é outra história…